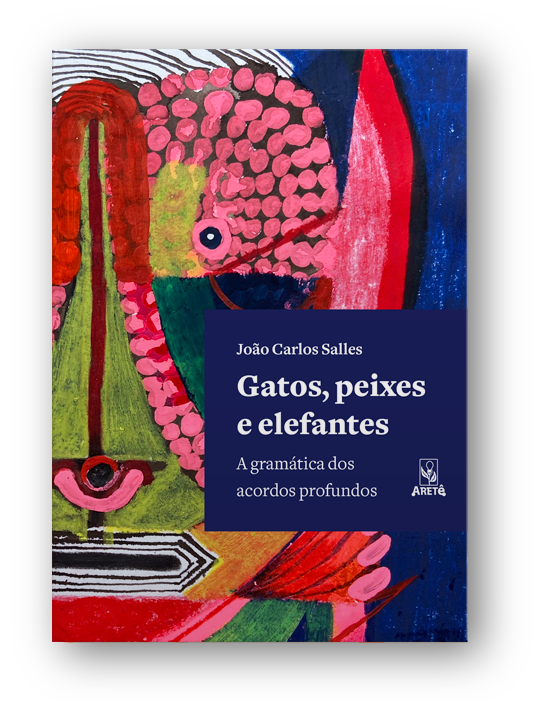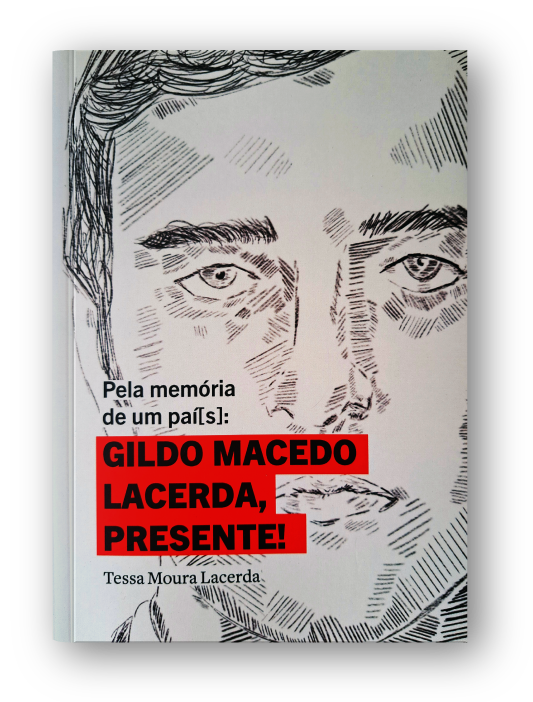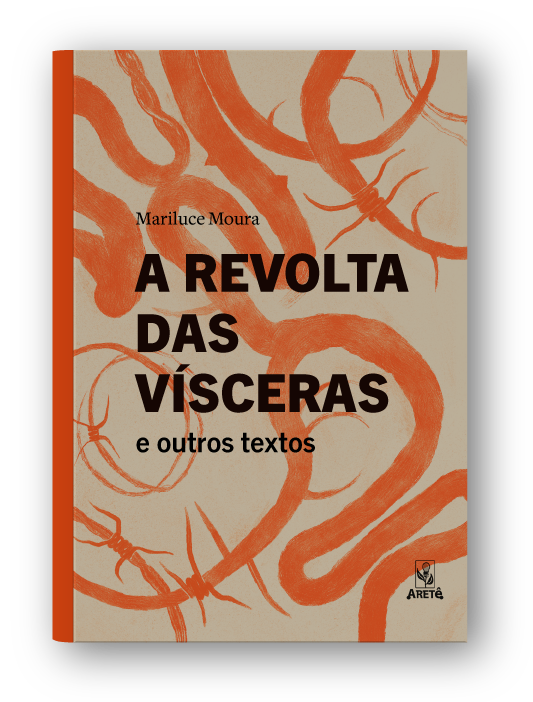Por Cris Lira
Entrevista com Mariluce Moura
*A entrevista que se segue foi feita em 3 de dezembro de 2015, via Skype, para a pesquisa da tese de doutorado “Mulheres guerrilheiras: a representação de personagens femininas em narrativas brasileiras e argentinas relacionadas às ditaduras ocorridas entre 1964 e 1985”, defendida em 2016 por Cristiane Barbosa de Lira, na Universidade de Georgia. O texto está incluído nos anexos da tese que pode ser acessada em https://getd.libs.uga.edu/pdfs/lira_cristiane_201605_phd.pdf
Na ficha catalográfica do livro A revolta das vísceras lê-se a classificação “romance rrasileiro”. Além disso, na capa, de modo explicativo, abaixo do seu nome, lê-se “Uma visão feminina da luta armada no Brasil. Uma história de paixão e morte”. A personagem fundante do romance, Clara, é uma escritora que, sobretudo, escreve sobre a dificuldade de escrever. Pela narrativa, é possível que Clara seja lida como uma representação sua, tanto quanto as personagens que ela tenta criar são, em maior ou menor grau, uma representação de si mesma. Com base nisso, Mariluce, gostaria que comentasse sobre a classificação do livro como ‘romance’ e não como ‘testemunho’.
É mesmo um romance à clef, digamos, autobiográfico, com personagens de minha geração circulando na cena. Foi a maneira que encontrei para conseguir lidar minimamente, alguns anos depois, com a tragédia que foi para mim a morte de Gildo. Dei pouca importância na narrativa à minha prisão, eu grávida, às torturas, etc, porque o que efetivamente me esmagou dentro do quarto amarelo onde realmente fiquei presa foi a morte de Gildo, que permaneceu como o grande amor de minha vida a despeito de todas as outras relações amorosas que tive (e lá se vão 42 anos!).
Também acho importante contar um pouco a história do livro para você. Durante meu tempo na prisão, eu escrevia muito. Sou jornalista, sempre escrevi muito, sou uma espécie de escritora compulsiva, mesmo se não publico. Depois de algum tempo que havia saído da prisão – e hoje, 3 de dezembro faz 42 anos —, comecei a ter eventualmente algo semelhante a sintomas de infarto, muita dor no peito, sensações de desmaio, e não se diagnosticava nada. A certa altura, uma pessoa do meu círculo recomendou-me a psicanálise. Quando comecei a fazer análise, a escrita foi fluindo mais. Em paralelo, Tessa, minha filha, entrara no final de 1976 na Barca D’Alva, em Salvador, e a psicóloga que era uma das fundadoras dessa pré-escola experimental, Aída Vieira, chamou-me para uma conversa, porque queria discutir uma estratégia para que eu pudesse contar a ela o que havia acontecido com seu pai, Gildo, no limite da percepção de uma criança de dois anos. A equipe da escola percebera no comportamento de Tessa algo como certos buracos de informação, porque se falava a ela de um pai, mas esse pai era uma ausência. Como lhe contar sobre esse pai que havia existido, essa presença ausente, de maneira que ela entendesse? Então, escrever era também uma forma de poder manter viva a história do pai para que ela pudesse conhecê-la a cada tempo na medida de suas possibilidades. Aliás, como combinado com a psicóloga da escola, contei a Tessa pela primeira vez que Gildo, seu pai, morrera, poucos dias depois daquela conversa. No momento dessa revelação, comentei também que meu segundo marido, Rino, que ela chamava de Rininho, ao casar comigo ao mesmo tempo a escolhera como filha. Espontaneamente, no dia seguinte ela passou a chamá-lo de pai. Estávamos, então, em 1977. Nesse movimento de escrever para recompor a história para a minha filha e, ao mesmo tempo, escrever ficcionalmente para compreender o que havia se passado comigo, adiante eu perceberia que os escritos que eu tentava elaborar como contos, na verdade continham o esboço de um romance.
O que me possibilitou essa descoberta, em 1980, foi o concurso para romances inéditos lançado pela Editora José Olympio em seu cinquentenário, a ser completado em 1981. Entendi que tinha nas mãos um romance quase pronto. A carta que Clara escreve ao longo do romance é o fio que costura partes que seriam contos na origem, é o que conecta toda a narrativa.
Tinha um certo tempo para elaborar o romance como tal, até encaminhá-lo para o concurso. De todo modo, o título foi decidido no último momento antes de levar os originais ao correio. Eu pensava em “Sombras do quarto amarelo,” mas os amigos que acompanhavam mais de perto aquela epopeia disseram que soava como título de romance policial. Estava em cima da hora, tinha que entregar no correio até 5:00 horas da tarde para valer a data da postagem, e aí Rino, meu segundo marido, propôs que eu usasse no título algo que mencionasse vísceras, por causa das condições físicas que eu atravessara ao longo da tessitura final da narrativa. De fato, algumas coisas eram tão difíceis de escrever, que vezes sem conta eu saía correndo da frente da máquina e corria ao banheiro para vomitar.
Lembrei-me então de A revolução dos bichos de George Orwell, que me fez pensar em “A revolução das vísceras”. Mas “revolução” tinha um certo tom bélico e institucional que eu queria evitar, precisava de algo mais popular, próximo, mais humano, e aí surgiu A revolta das vísceras. Depois da escolha do título, corri, coloquei o romance no correio e fiquei à espera. Na época, eu estava com a autoestima meio em baixa, desqualificava tudo o que eu fazia, não me achava capaz, e foi uma surpresa maravilhosa quando recebi o telegrama contando que meu livro ficara em segundo lugar no concurso. Isso afirmou para mim o valor literário do romance, e quando fui ao Rio para receber o prêmio, segui preparada para receber da Editora José Olympio uma proposta de publicação, mas deixaram claro que, como eu não era conhecida no Rio, não tinham interesse em publicá-lo e o livro foi para a gaveta.
Pouco tempo depois, num seminário no Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), um dos palestrantes era Jaguar, o cartunista Sérgio Jaguaribe, um dos fundadores de O Pasquim, o famoso tabloide cheio de humor e irreverência, editado pela Codecri (que é a sigla de Comitê de Defesa do Crioléu, algo perfeitamente aceitável nos anos ainda não politicamente corretos). Ruy Espinheira, meu colega e àquela altura escritor já conhecido, me apresentou a ele para que eu falasse do livro. Com aquele humor um tanto machista, ele riu e comentou que a Codecri não publicava poesia. Respondi que meu negócio era a prosa. Resumi brevemente o livro e ele me pediu para enviá-lo à editora. Pouco tempo depois, Alfredo Gonçalves, que cuidava das edições, entrou em contato comigo e disse que tinham interesse em publicar. Perguntei se gostaria de mudar o título, e ele disse-me que não. E foi assim que a Codecri publicou o romance.
Como foi a inspiração para a capa do livro?
A capa do livro é de Rafael Siqueira. O desenho é um perfil feminino com um coração de arame-farpado saindo pela boca. Sou muito palpiteira na parte de arte de todos os projetos em que me envolvo, mas sobre essa capa minha participação foi zero. Achei deslumbrante quando vi, parecia-me que a solução plástica da capa capturara com exatidão a essência do livro.
A obra promete, na capa, uma visão feminina da luta armada, mas até por campo semântico afasta-se completamente desta. Há trechos nos quais a clandestinidade é mencionada, além da participação em passeatas, mas não há descrições de ações, de nada do que se consagrou — veja-se a inúmera produção cinematográfica e televisiva sobre o tema, por exemplo, Anos Rebeldes, Amor e Revolução, O que é isso, companheiro?, Paula, a revolucionária — como sendo a luta armada. Como explica isso? Como explica que o enfoque seja, de fato, nas consequências da luta, na história de paixão e morte (que pode ser lida tanto quanto a paixão revolucionária quanto o amor de Clara por Roberto), ao invés da construção daqueles anos que seriam a luta?
Deixe-me corrigir o erro crasso do subtítulo do livro que, creio, saiu sem o meu expresso acordo, já não lembro. Não se trata de uma visão feminina da luta armada, porque não fui militante na luta armada, mas militante na AP, Ação Popular Marxista Leninista do Brasil. Nós defendíamos uma revolução socialista quando houvesse condições, que partiria de uma insurreição, urbana certamente, e não a guerrilha, o foco guerrilheiro ou a guerra popular prolongada do campo para a cidade. Naqueles tempos que já parecem tão distantes, 1982, eu vivendo em Salvador e os editores sediados no Rio, não vi a capa antes do livro estar pronto. E o erro ficou.
Mariluce, você acha que existe alguma razão pela qual foi utilizado este subtítulo? Se pensarmos no contexto da época, e em outros livros também publicados pela Codecri, temos O que é isso, companheiro? do Gabeira, o Em câmara lenta do Tapajós, para citar somente dois exemplos, voltados à experiência da luta armada. Seria uma estratégia de marketing da Codecri? Uma forma de dar enfoque à luta armada e as vozes que a compuseram? O que pensa a respeito?
De fato, não sei se podemos considerar uma opção de marketing. Quando as provas do livro chegaram, acho que eu estava tão feliz que não me detive em observar isso, talvez não tenha feito o trabalho rigoroso de autora na hora de revisar. Confesso que hoje ainda tenho preguiça de revisar provas de escritos meus. Gostaria de não ler mais por um bom tempo depois que ponho, após as correções, de fato, um ponto final. Também não tinha percebido que a dedicatória ficara na última página e que o nome da minha filha, Tessa, havia sido escrito como Teresa, numa das duas vezes em que aparece na dedicatória. Não há nenhuma Tereza, e ficou parecendo que eu tinha 4 filhos. Mas, também, por que fiz uma dedicatória prolixa e cifrada? Enfim, sobre o subtítulo não posso dizer qual foi a motivação da editora. E agradeço pela oportunidade de comentar o erro nesta entrevista. Não é uma visão da luta armada, ponto. Minha intenção com o romance era outra, era, a partir de uma perda brutal, dramática, relatar os efeitos terríveis de um assassinato político absurdo e injustificado sobre a psique e a própria vida de uma jovem mulher apaixonada, era refletir sobre o encontro de um grande amor em meio à militância política. Eu, que me mostrava durona por razões que têm a ver com a minha infância, que achava uma insuportável frescura a mania feminina de chorar por qualquer coisa, eu, que não permitia expressão pública de minhas emoções mais delicadas e me julgava no controle pleno de boa parte delas, tinha me entregado completamente à vivência do amor oceânico que Gildo me inspirara, e no qual parecia correspondida numa dimensão de tirar o fôlego. Era isso que eu queria descrever, trazer para a materialidade do papel, para que essa experiência de vida radical para o bem e para o mal não se perdesse. Além disso, o romance era um caminho para tentar continuar a sobreviver sem me fazer amarga, uma forma para compreender, para acolher em mim a densa e cotidiana realidade da ausência sem remédio de Gildo sem me deixar quebrar, romper, em termos psíquicos.
Mariluce, ainda que não tenha feito parte da luta armada, a Ação Popular, AP, passou por rompimentos e uma das partes seguiu para a luta armada ao lado do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que, mais tarde, faria a Guerrilha do Araguaia. Pode comentar um pouco sobre a questão de como você se inclui aí? Além disso, poderia comentar sobre, embora não fazendo parte da luta armada, se havia uso de armas para proteção? O Gildo tinha uma arma?
Eu nunca tive armas, nunca acreditei, de fato, no uso da violência para chegar a algum lugar mais avançado. Gildo também não tinha armas. É claro que no horizonte de nossa militância estava fazer a revolução socialista, e então, sabíamos, todos nós iríamos eventualmente pegar em armas, mas isso estava num futuro indefinido da revolução, e eu mesma o enxergava como algo infinitamente distante. Quando a AP se dividiu, estávamos na chamada esquerda do partido, não afinados com a guerrilha imediata ou com a ideia da guerra popular prolongada. Nosso caminho era a luta pelo socialismo que seria conquistado por meio de uma revolução, a partir do ambiente urbano e sem data à vista. Eu já era jornalista, trabalhando em redações de jornais, desde 1969, cobrira várias secas nas regiões agrícolas e a movimentação subsequente de retirantes no sertão da Bahia, e pessoalmente era completamente cética quanto à palpabilidade de uma revolução e, mais ainda, quanto às inclinações revolucionárias do campesinato e do operariado brasileiros. Eu era militante muito mais pelo dever da luta contra os absurdos da ditadura e o imperialismo, contra as profundas injustiças sociais que estruturavam nossa sociedade, do que pela fé na revolução. O grupo que chamávamos de “a direita” da AP seguiu para a integração com o PCdoB e para a luta no Araguaia. Mas é importante lembrar que a AP, sempre com dissensões internas, também realizou ações nas quais se fazia uso de armas. O exemplo mais notório é o atentado contra o general Costa e Silva, o então ditador, no Aeroporto dos Guararapes, em Recife, em julho de 1966. No geral, porém, não estávamos envolvidos com a luta armada. Eu sonhava com uma revolução sem armas.
Na minha tese, eu apresento uma categoria, baseada nas ideias de Foucault em Vigiar e Punir, que eu chamo de “memória disciplinada”, que é resultado de um “intervalo transformador”. Eu me baseio no fato de que, na maior parte das produções culturais feitas por homens, a figura da mulher guerrilheira é representada de maneira heroica, sexualizada, perigosa, dominante e em posição de liderança. Enquanto isso, nas produções culturais feitas por mulheres, o foco é normalmente em uma figura masculina ausente (que era, de fato, quem estava envolvida em ações de luta armada, capazes de cometer violência) enquanto a figura feminina recupera-se no pós-tortura como corpo e memória marcados, sofridos, que se reformulam a partir de um presente no qual já não são mais aquelas pessoas do passado, isto é, já não fazem parte da luta, não são mais tão jovens, e fazem críticas ao modo como trafegavam no mundo que descrevem. No caso de Revolta, o que me encanta mais é que Clara é uma personagem que, ao invés de adentrar completamente em uma esfera ou outra, ela reflete e se apresenta de modo tenso entre um universo e outro, como se não pudesse pertencer totalmente a nenhum deles. Vejo isso, por exemplo, nos trechos em que ela fala a respeito de ser tão amargurada, além dos momentos nos quais ela se compara com as outras mulheres que juntas compõem um perfil mais complexo da mulher guerrilheira no período, no caso Maria e Ana. Gostaria que comentasse a respeito da personagem Clara e as contradições que ela apresenta, as incertezas, e se considera que o caminho que eu esteja traçando lhe parece pertinente.
Não vejo Clara amargurada antes do assassinato do homem que amava, só depois. Era antes uma jovem dividida entre um certo hedonismo de uma parte de sua geração (estávamos nos anos do amor livre, da afirmação feminina do direito sobre seu corpo, das experiências com LSD e das viagens mais leves com maconha, dos experimentos de viver em comunidades urbanas, etc. etc.) e o sentimento do dever revolucionário de outra parte. Digamos, entre hippie e militante, entre participante da contracultura e revolucionária. Ela via a grande massa alheia a todas essas coisas, inclusive em seu ambiente de faculdade e de trabalho, e uma pequena parte que ela percebia como vanguarda, como a elite cultural geracional, digamos assim, dividida entre a contracultura e a revolução. Clara amava ambas as dimensões, e Ana representava o lado hedonista, a porralouquice, como se dizia, enquanto Maria caminhava para o fervor revolucionário. Clara caminhava como equilibrista no arame entre os dois mundos e a consciência de que a maioria não estava em nenhum deles. A chave do que é Clara está em que ela faz uma escolha pelo universo revolucionário de novo e se afasta da ambiguidade, do pé na porralouquice quando se apaixona perdidamente por Roberto. É pela paixão amorosa que ela então se move.
Revolta, em diversos momentos, lembra-me a personagem Laura do conto de Clarice Lispector, “A imitação da rosa”. Há vários momentos nos quais Clara foge da realidade, caminha para o quarto amarelo de modo que todos ao redor dela percebem que ela, tanto quanto Laura de “A imitação da rosa” é um “trem que já partira”. Pergunto-me se essa relação é mesmo pertinente, se havia alguma intenção em lembrar a personagem à beira de uma crise nervosa ou se simplesmente é acidental. Para reforçar a ideia, há ainda a cena da chegada de Clara à casa onde vive com César e o momento em que se depara com as flores vermelhas que a fazem sofrer tanto por não conseguir se amarrar completamente ao presente, embora exista um desejo muito profundo de fazê-lo. No texto de Clarice Lispector, a motivação para que Laura beire novamente o abismo é, justamente, as flores que comprou e que são perfeitas, lembrando Laura de sua imperfeição.
Eu tenho influências de vários autores. Desde muito jovem leio Clarice Lispector, mas não só. Éramos de uma família bastante pobre, mas nossos pais sempre nos incentivaram a estudar e a ler muito. Minha casa sempre teve muitos livros. Éramos seis mulheres em uma casa com dez filhos, um ou outro primo agregado, uma avó legal, e meu pai sempre dizia que todas nós devíamos estudar e nos graduar na faculdade, qualquer que fosse a profissão escolhida, antes de namorar e pensar em casar. Ele dizia que uma mulher de família pobre, sem uma profissão de nível superior, se casasse se colocaria numa situação de subserviência que ele não desejava para suas filhas. Vê? Era um pensamento feminista, à frente de seu tempo. Então, líamos muito, havia um quarto grande junto ao quintal da casa com livros do chão ao teto, enfim, era uma casa humilde, mas recheada de livros. Mas, voltando a sua pergunta, acho interessante que tenha visto uma influência desse conto de Clarice no meu texto porque, embora goste muito dele, fico muito irritada de que ela permita que a mulher adentre a loucura e lá fique, sem possibilidade de retorno. No meu romance, obviamente Clara está suspensa numa linha fina, muito tênue, entre o adentrar a loucura e fixar-se no mundo real. Mas, veja, a loucura para Clara seria recusar-se a aceitar a morte de Roberto, ficar presa num lugar ou não-lugar onde a morte não acontecera, e ela tinha razões muito poderosas para isso porque o corpo de Roberto jamais fora devolvido pelos algozes para que a família o enterrasse — e essa é a história real de Gildo. Clara teria a possibilidade de escolher a opção de que ele conseguira fugir e os agentes da ditadura não terem revelado isso, muitas eram as possibilidades num universo por si só absurdo. E vale dizer que minha filha, Tessa, alimentou até se tornar adulta, uma secreta esperança de que o pai conseguira fugir e apareceria um dia. Nesses sentidos todos há uma distância abissal entre a personagem de Clarice e Clara.
A carta para um alguém que inexiste num endereço também inexistente é o fio de Ariadne de Clara justamente para ficar no real, nele fixar-se e alcançar o presente, depois de reconstruir aquela história. Por isso na última cena do romance, no último capítulo, Clara está no colégio, que é mesmo para lembrar o Colégio de Aplicação onde estudei, onde fui imensamente feliz. É num espaço que me traz segurança que ela tem a última experiência entre “o lá e o cá”, irrompe em lágrimas, mas volta à realidade e sai correndo. Como se despertasse então completamente do limbo no qual antes estava encerrada. Aquela cena é justamente a mais ficcional do livro, a que menos se relaciona literalmente com a minha história pessoal, com o meu testemunho da época. Porque é uma saída ficcional para poder recuperar o que me fora tirado. Clara enfim “toca” Roberto e compreende, incorpora em si, sua inexistência. Eu busco assim compreender a morte sem corpo morto de Gildo que foi lançada brutalmente à minha experiência de viver. A ficção me permitia a aproximação com o que vivi, com os demônios e as memórias com as quais tentava lidar.
No texto da Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, do dia 25 de outubro de 2013, a senhora comenta sobre uma segunda edição do livro A revolta das vísceras. Como está o andamento dessa segunda edição? Há revisões ao texto?
Já tenho até uma nova arte para a capa da segunda edição, mas ainda está no forno. Também gostaria de ter a oportunidade de publicar o segundo romance no qual estou trabalhando, que vai ter o título que era para ser o de Revolta. É o romance Sombras do quarto amarelo. Escrevo muito, tenho muitos cadernos da época da prisão que já até pensei em jogar fora, mas que guardo porque podem ser usados também nos processos de reparação.
Em Revolta, Clara rompe, em determinado momento, com a organização da qual fazia parte. É, segundo Roberto depois comenta com ela, considerada “liberalóide” e “porra louca”. É a primeira organização da qual ela fazia parte, a de luta armada? Penso nisso, pois, quando já fora, há um trecho no qual Clara procura Maria novamente: “procurei Maria e lhe disse que ninguém iria me ganhar, eu os procurava, porque sentia vontade de saber o que havia de novo no front. Queria mexer alguma coisa dentro da escola, não estava tão distante de tudo, precisava saber o que se falava, discutia e propunha, fora da luta armada” (81). Uma vez que Clara pode ser lida como uma versão romanceada de Mariluce Moura, eu gostaria de compreender melhor a sua participação na militância e também na luta armada. Quais foram as organizações? A senhora militava na mesma organização que Gildo Lacerda, a AP?
A minha militância acontece mais ou menos como eu trato no livro. Eu já havia participado de manifestações, passeatas, etc., mas o acesso de maneira mais concreta ocorre por meio da amiga retratada como Maria, no romance. Foi um irmão dela, militante de AP, que propôs um primeiro grupo de estudos em que estaríamos nós duas e mais dois ou três simpatizantes. Isso foi em 1968. Em 1970, minha descrença nas possibilidades da revolução e meu lado hedonista falaram mais alto, e eu resolvi me divertir muito por um tempo. No final de 1971, voltei a ficar preocupada com o país e quis saber o que havia de novo no front dos movimentos da esquerda clandestina e, especialmente, de AP, e foi aí que terminei por encontrar Gildo em junho de 1972.
Com base na pergunta anterior, gostaria que comentasse sobre o uso do termo guerrilheira para descrevê-la. Como se sente com a utilização do termo? Na tese também, eu procuro apontar que o termo “guerrilheira”, no contexto da ditadura brasileira e argentina, precisa ser observado de maneira ampla. Isso significaria dizer que não está necessariamente ligado à luta com armas ou a ter empunhado armas. Mas com o contexto apontado por Carlos Marighella no Manual do Guerrilheiro Urbano de que procurar informações, dirigir carros em ações, pichar muros, etc, todas essas ações eram ações que também constituíam a figura do guerrilheiro urbano e da guerrilheira urbana.
Não me sinto nem um pouco confortável com o termo guerrilheira para explicar minha experiência. Não fui guerrilheira. Eu era uma militante de AP no movimento estudantil, e essa prática extravasava um pouco para meu trabalho no jornal. Eu tinha uma vida bem normal, estudava, trabalhava, farreava, adorava festas, era uma mulher de pensamento bem aberto e avançado, achava normal namorar com dois rapazes simultaneamente, mas não na mesma cidade, e tinha um lado clandestino de militância, além da militância aberta mesmo no diretório da Faculdade.
Gostaria que comentasse a respeito da carta que Clara decide escrever e que a perturba. Eu já li o romance várias vezes e todas as vezes sinto sempre a questão da carta como um embaraço, um emaranhado. A carta é, de fato, endereçada a esta sombra que a acalanta e desespera ao mesmo tempo? Quem é o destinatário da carta? Poderia a carta ser todo o romance e o movimento de ir e vir sendo o destinatário a sociedade que ficou em casa – ou com quem já não se consegue dialogar do mesmo modo (como ela aponta sobre Geraldo)?
A carta é o fio que conecta o romance, é a motivação, a forma de tentar compreender a sobrevivência, o meio de exorcizar os demônios, compreender a morte inconclusa. O destinatário é este outro, que Clara não aceita que esteja morto, esse desaparecido sem corpo. O destinatário não é a sociedade, é Roberto, é o seu amor retirado da esfera do mundo real, mas cuja morte não se concluiu porque ela não viu nem tocou um corpo morto. Ela precisa escrever para ele, porque só ele teria a possibilidade de compreender em toda a extensão o inferno absoluto em que foi atirada, justamente porque só ele compreendia a experiência de amor que os dois viveram e que os vinculava.
Talvez para você compreender melhor, eu precise lhe dizer que, dos 42 dias que passei presa, em 32 foi já sabendo que Gildo estava morto. E eu estava me desestruturando sozinha, sem ter quem me ouvisse, me abraçasse, me consolasse. Quando saí da cadeia, era impossível para mim explicar a minha família e a meus amigos a dor oceânica e o abismo sem fim em que eu estava vivendo, e no qual não podia permanecer porque estava grávida e precisava preservar a sanidade do bebê também. Eu tinha acabado de fazer 23 anos, tudo isso era demais. Então eu me calava sobre os sentimentos que me destroçavam. Era só para Gildo que eu queria falar, e Gildo estava irremediavelmente morto.
Então, a carta é para ele, mas finalmente eu posso apresentar na ficção, para o mundo, essa dor que a ditadura me causou. A carta é para o homem amado e o amor por ele está sendo gritado para o mundo, graças à ficção, por meio desta carta.
Uma observação: o velho sábio a quem finalmente a carta é entregue é inspirado no abade do Mosteiro de São Bento, dom Timóteo Amoroso, uma das mais belas figuras que conheci na vida, e que me salvou infinitas vezes, digamos assim, com sua luminosidade, sua serenidade e suas palavras amorosas, a partir do momento que saí da prisão e, grávida, voltara a trabalhar.